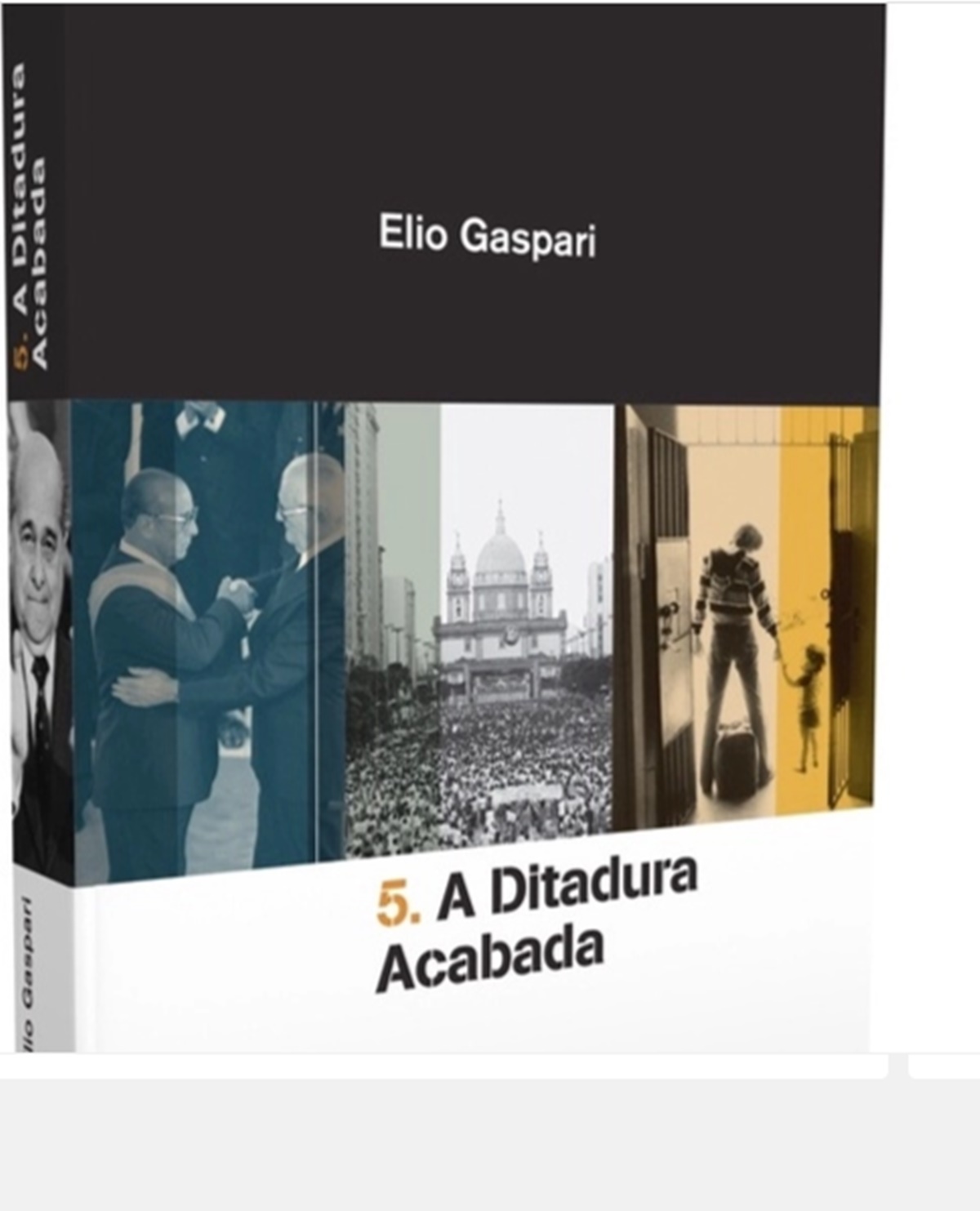Nonato Guedes
A propósito do transcurso, hoje, dos 60 anos da ditadura militar que vigorou por 21 anos no Brasil (1964-1985), é oportuno registrar o desfecho melancólico da aventura autoritária que depôs o governo constitucional do presidente João Goulart a pretexto de varrer o comunismo e combater a corrupção, e não conseguiu nenhuma coisa nem outra, além de ter legado inflação estratosférica e rastro de destruição das instituições democráticas, dos poderes constituídos e das entidades da sociedade civil organizada. O último general-presidente do rodízio de militares que se sucederam arbitrariamente no poder, João Baptista Figueiredo, deixou o Palácio do Planalto pela porta dos fundos, recusou-se a passar a faixa a José Sarney, investido com a enfermidade que levou à morte de Tancredo Neves e pediu ao povo brasileiro que o esquecesse. Hoje, 53% dos eleitores não veem chance da volta de uma ditadura ao Brasil, conforme pesquisa do Datafolha.
No livro “A Ditadura Acabada”, que encerrou série monumental de cinco obras de resgate do período militar, o jornalista Elio Gaspari informa que na madrugada de 15 de março de 1985 a restauração democrática brasileira viveu sua maior crise e superou-a de maneira exemplar. Ao contrário do que aconteceu em 1969, quando o marechal Costa e Silva ficou incapacitado e o país foi jogado num período de anarquia militar, todos os personagens agiram buscando a normalidade, numa situação de anormalidade. “Quem foi dormir cedo esperava assistir à posse de Tancredo Neves às nove da manhã, diante da nação em festa, da presença do vice-presidente dos Estados Unidos e de dezenas de delegações estrangeiras. Quem acordou tarde soube que José Sarney tomara posse. O país parou, acompanhando a agonia do arquiteto da transição”, descreve Gaspari, lembrando que naquela crise a bússola foi a Constituição, que era clara: “Substituirá o presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no caso de vaga, o vice-presidente. O regime que agonizava não tinha mais força para qualquer gesto de obstrução ou vacilo. Rendeu-se às evidências, ou ao fato consumado.
O quinto general do regime que começara em 64 com uma posse ilegal no meio da madrugada e num palácio vazio, deixou o Planalto pela porta lateral, despercebido. Depois de 21 anos acabara-se a ditadura e o governo de Figueiredo foi desastroso, deixando a maior inflação já registrada até então na história nacional e a maior dívida externa do mundo. Seu temperamento, que ajudara a destruir seu governo, arruinara-lhe, também, a cena final. Trocou o papel de personagem de uma cena histórica por uma ausência mesquinha e simbolicamente ridícula. Figueiredo detestava seu vice, Aureliano Chaves, e o vice de Tancredo, José Sarney, mas isso não era suficiente para que se ausentasse do melhor momento de sua vida pública: a entrega do poder a um civil, conforme Elio Gaspari, que acrescenta: “Em diversos momentos, o cavalariano estourado tomou, ou deixar de tomar, decisões que corroeram sua biografia. Em sua última entrevista como presidente, expôs a profundidade de seu ressentimento, que ia muito além de malquerença a Aureliano e a Sarney. “O povão que poderá me escutar será talvez os 70% dos brasileiros que estão apoiando o Tancredo. Então, desejo que eles tenham razão, que o doutor Tancredo consiga fazer um bom governo para eles (…) Que ele dê a eles o que não consegui (…) E que me esqueçam”.
Com todos os atropelos e incidentes, o Brasil livra-se, enfim, de um pesadelo – a chamada “longa noite das trevas”. Mas, como observam os jornalistas Palmério Dória e Mylton Severiano, no livro “Golpe de Estado”, o espírito e a herança maldita de 1964 ainda ameaçam o Brasil. O editor Luiz Fernando Emediato afirma: “O preço que pagamos por 1964 é ainda muito alto”. Palmério e Severiano chamam a atenção para um aspecto relevante: passados tantos anos dos trágicos idos de março e abril de 1964, os golpistas e seus apoiadores de primeira hora ou ao longo do tempo jamais admitiram, nem admitem, que o golpe partiu deles. Puseram tanques nas ruas, derrubaram pela força um presidente legitimamente eleito, prenderam os que se lhes opunham, agrediram, torturaram, mataram, desapareceram com corpos, censuraram, mas para eles o golpista era Jango (o ex-presidente João Goulart, deposto), enquanto o verdadeiro golpe, o deles, seria “preventivo”. Evidente que se trata de uma deturpação e uma deslavada mistificação da História. O general Antônio Bandeira, que combateu a Guerrilha do Araguaia em 1972, falou, num depoimento, em “contrarrevolução” e lançou grotesco sofisma ao dizer: “A ideologia política foi puramente a de preservar o regime democrático”. Para preservar o regime democrático, pisotearam-no até matar.
Palmério Dória e Mylton Severiano ressaltam que além dos golpistas jamais admitirem que deram um golpe em 1964, os seus sucessores, por obtuso corporativismo, nunca aceitaram pedir ao povo brasileiro perdão por golpear um presidente constitucionalmente eleito. O presidente que era popular, mas preferiu retirar-se de cena a contragolpear os golpistas para não mergulhar o Brasil numa guerra fratricida. Ainda que seja visível o desinteresse das novas gerações pelo histórico da ditadura militar de 1964 – como ponderou, ainda ontem, o mano jornalista Lenilson Guedes – sempre será preciso contar as verdades, porque o Brasil experimentou um período de terrorismo político-institucional. E porque persistem as ameaças, a exemplo da orquestração persistente do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores para a reimplantação de um Estado autoritário, de um regime de exceção no país, com o sacrifício da Cidadania e das liberdades públicas. A defesa da democracia é “mantra” a ser cultivado de forma permanente para impedir que o Brasil seja submetido a novos retrocessos intentados pelos inimigos da paz social e do bem-estar.